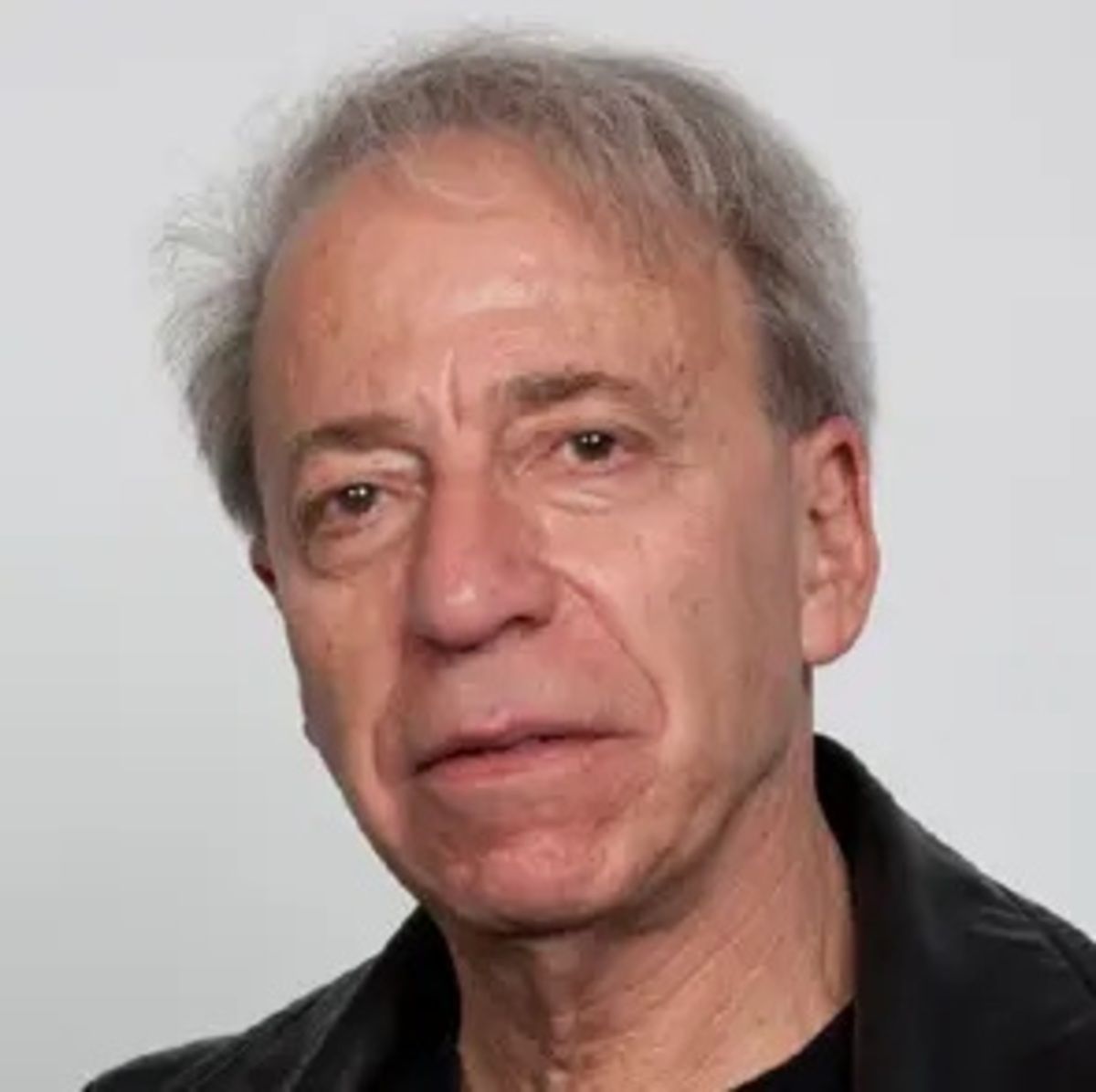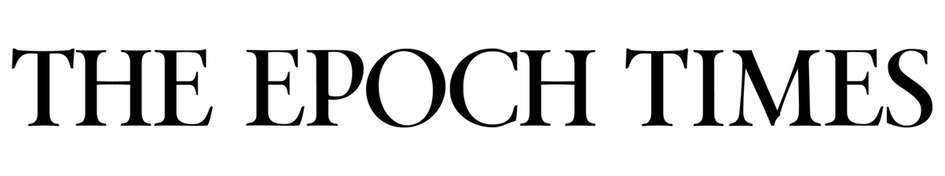(Alexandra Beier/AFP via Getty Images)
Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
A ciência moderna aprecia apresentar-se como o oposto da religião: sem altar, sem hinos, sem credo — apenas equações, medições e a disciplina rigorosa da falsificabilidade científica. No entanto, enterrada profundamente nessa visão de mundo supostamente racionalista, existe uma concessão tão significativa que merece um nome próprio.
O etnobotânico Terence McKenna foi direto ao ponto: “Dê-nos um milagre gratuito e nós explicaremos o resto.”
O “milagre gratuito”, explicou ele, é o surgimento de toda a massa e energia que formam o universo — além das leis que as governam — em um único instante a partir do nada. Em outras palavras, o primeiro passo da cosmologia científica não é uma explicação, mas uma admissão. Isso não é um insulto à ciência. É simplesmente o reconhecimento do paradoxo no cerne de nossas maiores teorias. O universo está aqui.
Podemos mapear seus efeitos posteriores com precisão extraordinária. Mas a questão das origens permanece uma porta trancada, e a chave parece estar faltando. Quanto mais aprendemos, mais óbvio se torna que os problemas mais importantes não são aqueles que podemos “resolver” casualmente, mas aqueles que nos forçam a revisar nossa ideia do que é uma solução.
O caso mais persistente é a gravidade, a quarta força indisciplinada do universo. Os cientistas conseguiram unificar de forma plausível as outras três: a força atômica forte, a força atômica fraca e o eletromagnetismo. A gravidade continua sendo a dissidente. Sir Isaac Newton a tratou em termos de espaço e tempo absolutos. Albert Einstein reimaginou a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Ambos, porém, são modelos independentes. E a dificuldade central persiste: como “quantizar” a gravidade, trazendo-a para o mesmo nível das outras?
Mesmo que a gravidade cedesse, a fissura mais profunda permaneceria. No nível da física quântica, encontramos probabilidade, não localidade e descontinuidade. No nível clássico — o mundo das mesas, dos planetas e das maçãs que caem — encontramos continuidade, determinismo e sequência causal. As duas ordens da realidade não se encaixam. Elas são tão diferentes que, matemática e conceitualmente, nem deveriam coexistir no mesmo universo.
E, no entanto, elas coexistem. De alguma forma, vivemos dentro de uma “sociedade” cosmológica cujas “classes” separadas operam sob uma “constituição” permanente — um acordo viável que combina incompatíveis sem nos dizer como o acordo foi negociado. Como tudo isso pode ser possível?
O leitor moderno pode sentir uma tentação familiar: a ciência logo fornecerá a equação que falta e tudo será reconciliado, sem qualquer recurso à fé — muito menos a Deus. Mas, dado o que realmente sabemos, talvez essa esperança seja, em si, uma espécie de escatologia secular, uma promessa de salvação em forma matemática.
É aqui que a ideia de “milagre” retorna — não como uma interrupção barata das leis físicas e matemáticas, mas como um nome para o fato de que essas leis existem e que leis aparentemente irreconciliáveis, na verdade, cooperam de alguma forma. O surgimento do mundo físico clássico a partir de uma base quântica aparentemente desconectada é precisamente essa ruptura: uma quebra conceitual que não pode ser nem mesmo imaginada, muito menos explicada.
O universo não é apenas estranho; é sem precedentes. É, por assim dizer, uma violação do nada. Nada disso nos força a entrar em uma caixa religiosa organizada. Não sou um “crente” em nenhuma religião organizada, mas levo a sério o testemunho de mentes que olharam para o abismo e se recusaram a chamá-lo de vazio.
O físico Paul Davies argumentou que o universo não é um subproduto de forças sem propósito, mas algo criado — um artefato de intenção. O físico ganhador do Prêmio Nobel e inventor do laser Charles Townes foi além, escrevendo: “Acredito firmemente na existência de Deus, com base na intuição, observação, lógica e também no conhecimento científico”. Pode-se discordar de ambos os gigantes da ciência. A questão é que a pergunta não desaparecerá.
Se nossas melhores teorias não conseguem finalmente explicar por que existe algo em vez de nada, ou como o tempo e o espaço surgem, ou por que realidades quânticas e clássicas radicalmente incompatíveis formam uma aliança funcional, então talvez não tenhamos outra escolha a não ser admitir o que nossa era considera mais difícil: ignorância, limites, mistério. Admitir isso não é recuar para a superstição. É recuperar a humildade intelectual — e, com ela, um senso mais preciso do que é a vida humana.
Talvez a verdadeira “teoria de tudo” não seja uma equação final. Talvez seja uma postura: a capacidade de viver dentro do não resolvido, de perceber o mundo como maravilhoso, em vez de meramente maleável, e de responder à existência com gratidão, em vez de tédio.
O mundo está repleto de pequenos “pnemes”, uma palavra que cunhei para significar “partículas espirituais” — aqueles momentos aparentemente aleatórios e às vezes incongruentes que parecem intencionais, como se a própria realidade estivesse piscando para nós. A verdadeira questão, então, não é apenas como o universo começou, mas como devemos enfrentá-lo agora. Podemos buscar a unificação para sempre.
Ou podemos reconhecer que o fato mais surpreendente já está aqui: um mundo que existe, se mantém unido — e nos convida a nos maravilhar.
David Solway é autor, poeta e compositor, cujo último livro de prosa é Profoundly Superficial (Profundamente Superficial, da New English Review Press, 2025). Sua tradução para o inglês da coletânea de poemas de Dov Ben Zamir, New Bottles, Old Wine (Little Nightingale Press), será lançada no ano que vem.
A versão original e completa deste artigo foi publicada recentemente na C2C Journal.
As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Epoch Times..